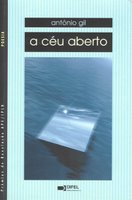
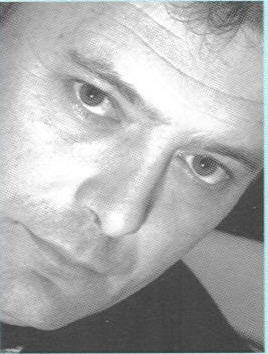
Assim como sendo tarde e sendo ainda cedo digo que a poesia de António Gil percorre ainda o anverso da luz no seu jeito tranquilo de nos inquietar. Nem muito se mostra ou mostrou, presa aos orifícios da pedra de um espaço que desejo habitável e que o é forçosamente. Mas quem escuta as suas palavras, as suas melhores palavras?
Construo esta casa vista de longe, de um tempo ontem não já aqui, de um tempo afinal que é início impresso de um curso implacável e oracular. Reconstruo e derrubo as ruínas de 1981. Os olhos dessa casa poética, desse livro titulado Poesia Nascente, dizem ainda aquela verdade luminosa de um qualquer fragmento da velha lírica grega:
Trouxeram-me as palavras
É quase um abismo ser eu
É inútil pensar
Sigo o caminho das palavras
Há dizeres que são destinos. E esse murmúrio insinua-se ostensivo nesta revisitação às fundações de uma casa que nos vidros silenciosos de todo o sal das palavras ecoa sempre uma história imensa de mais de duas décadas. Em parceria com António Manuel, outro poeta da nossa circunstância e ainda mais silencioso, esse livro nascente traz consigo já muitas das preocupações poéticas que ignoram a afirmação fácil. Digo, por exemplo, o lago narciso (subtilmente trabalhado há dois anos por António Franco Alexandre), a fragmentação da imagem e a sua cisão (ao jeito da ânfora partida de Sophia de Mello Breyner), a aparição de um ser intenso (de vezo brandoniano, tomazino ou vergiliano, colado quase sempre à memória), a ternuras das palavras (de sabor eugeniano), o brilho da noite (assim como uma “cinza iluminada” ou o “límpido plâncton da morte” de que fala Al Berto), o percurso pelos ritos do silêncio e outros motivos por lá sugeridos, contributo inequívoco para o caminho que se abria com as suas máscaras. Que angústias e que influências? Também estas, também outras. E, no entanto, uma força indisfarçável nessas conquistas que já eram suas. Chegado, é nesse esteio da habitação que o Poeta repousa.
De algum tempo depois, passado o bulício na e da fanzine zut! (quem ainda ouve aquele aviso?: “Não te olho pela última vez: // Se o fizesse, naõ seria essa, / a última vez”), chegam, já na década de noventa, os textos contidos e reservado de Trânsitos , com que sigo nesta viagem pela casa antonina:
abriu-se uma porta e a infância
por ela saiu, despedindo-me
até ao patamar onde a memória
ainda a reencontra.
Abre-se uma porta desde as fundações deste edifício. Um longo corredor de mais de dois lustros abre-se aos nossos olhos. São trânsitos antiquíssimos como um sopro de Alexandria. Este livro, certo de si, encosta-se ao vento que cruza o primeiro andar da casa. Sítio misterioso este na sua evidência de poema fundacional. Mas ao contrário: sem organização agrícola ou condução dos animais à água, é da secura do ser que este poema diz. Como um anteu negativo, há consumpção, vertigem e reconstrução e restabelecimento da infância à adultez. Isto é, também memória (memória?) contra o gelo do inverno que sempre invade cada vida e explode no calor do sangue. “a ferida alastrava interior sem compressa que detivesse a hemorragia.” E chega a ser imenso, emocionante para o leitor-construtor, a força antiga e devastadora que brota desta exumação do passado condimentada com a verdade irreversível e a força da transformação. Este regresso poético de António Gil é, para mim, um grande conseguimento da poesia portuguesa. E isso é-me particularmente emocionante, uma vez que, dentro de um desconhecimento que o poeta também busca, há uma linhagem poética de modernidade que não se perde – linhagem iniciada pela ousadia de Judith Teixeira e ininterrompida a partir de si com o fluxo de nomes maiores como João Pedro Grabato Dias, António Franco Alexandre e Luís Miguel Nava.
Volto ao texto. Inventava ainda António Gil, nessa belíssima viagem, um universo sempre único, ptolomaico, ardente de fogo e de gelo, voragem afinal da fogueira de Alexandria (“regresso à estante e entro noutra divisão sedento de novas cores”) e do ardimento dos mapas, em lição de incontacto e fractura com o outro. Parte dos vestígios da poesia este trânsito de dentro, labiríntico poço memorial de exclusões, romagens, erros e dobragens muitas. Acabo junto ao ralo (sigo Nava e Gil) e digo-vos que sigamos este livro e a sua “língua sedenta de oceânicas aventuras”.
Todo o voo poético acaba na nudez da presa. Outro livro nasce, de seguida, ruptura que é sutura ao edifício já construído, como é também intensa reflexão sobre o fogo da criação. A presa agora é o próprio ofício: em Ofícios da insónia são ditos de desdém pela verba, cinza espalhada sobre o verbo; são interrogações rigorosas sobre quaisquer actos hermenêuticos (“como pode pois alguém encontrar aquilo que já não tenha?...”), lembrando este lance o celebérrimo vergiliano asserto que prescreve que “ninguém aprende mais do que aquilo que sabe”, bem como manifesta, de forma mais vincada, talvez, a contaminação demaniana do conhecido asserto “Só podemos compreender aquilo que já de algum modo nos foi dado” ; são ainda saltos para o abismo das palavras, mundo salvífico contra a “realidade”; é, por último, a epifania da ultrapassagem das longas noites insones
o que deste aparo ainda se solta
/ liga-me/ às incontáveis noites /
átomos de sonho longamente
carbonizados / de que só agora
se começa a ver o brilho...
A ironia e o seu princípio aparecem “espantosamente” em Indústrias do Absoluto, livro entendido pelo autor como uma clivagem na sua obra. No entanto, esse modo constitutivo da literatura, como o diz Solger, vem de longe, do início do caminho, como prolongamento de um velho alicerce da linguagem. Livro de início de século, a palavra é industriosa e a concepção engenhosa, com cálculos e encaixes técnico-compositivos que provocam o leitor. Nos versos, a música é de denúncia e de histriónica parábase. Assim o possa o receptor ler na sua múltipla provocação.
a céu aberto nesta casa que visito. Território laureado, é sólida edificação neste primeiro terraço que abro. Mas vem do fundo. Vem do fundo das gavetas a poesia de António Gil. E há nisso um halo de humidade que lembra algum Álvaro de Campos. Sai da clandestinidade, desconfiada de si, face oculta que se desvela para o seu tempo por fim chegado. Não pensa ainda o poeta ser esta a hora? Pouco importa o seu dizer ou o seu pensar, se a sua voz, de mais de duas décadas, recobra para nós um sopro urgente, também influenciado, sem angústia, pelas melhores vozes autoritárias, sempre pletórico de novidade e de diferença. A sua criação, torrencial como eu a julgo pelo que sei que dela não conheço, não cede nunca ao dilatório, antes se afirma por uma técnica do restauro, por uma trabalho oficinal quase espontâneo e, no entanto, depurado, que cria uma alegorese fracturante de que brotam outras palavras e outras ideias. Mas não é esta a minha tarefa. Avanço, pois.
O Poeta diz corpo e logo do corpo contíguo, tensão íntima entre o fogo do poema e a fisicidade biológica sua conatural. “As janelas da casa são sempre em número infinito”, diz o poeta-filósofo Rui Magalhães. São caminhos que se levantam do primeiro poema: é um texto que tudo diz – do tear e das urdiduras, passos em volta, indecisos, ansiosos, pábulo da queimada nocturna que refrigera a criação e transborda em palavras, íntima joalharia do ventre do fogo. São luzes e janelas de um enorme salão com vista panorâmica sobre os trabalhos do poema sobre o corpo e da cedência deste àquele. Fluxo escutador do escrínio da reserva, estampa-se neste livro um grito primigénio da roca criadora sobre os fios do ser-sombra desconfigurado, fora e dentro do texto. A palavra escreve o poeta, vinda do centro do corpo e do seu avesso, verdadeiro tear operado por um duplo-outro, avesso e colaço. Afinal, sangue com poesia ou corpo contíguo: “possa esta escrita guardar-te no clarão / que ficará quando o livro fechado / encerrar também a sombra de coração”.
filigrafias (com Joaõ Pedro Domingos d’ Alcântara Gomes) sai em 2002. Observo agora nestes lanços já subidos o mobiliário primitivo e a memória geométrica de uma obra que é evidente, já perfeita de inacabamento, mas que lança cada vez o seu corpo para as escadarias do horizonte. Espreito de novo a janela: vem-nos a margem e os corais desperdiçados – filigraficamente se diz a flor do corpo, com novos e velhos ecos, insónias de sempre percutidas na noite. E já ditas.
“O livro, se é válido, ultrapassa-se a si próprio”, di-lo um lúcido Merleau-Ponty. O lugar de António Gil é uma morada poética. Como vamos vendo. E é um facto que vendo eu a poesia assim somada nos seus contornos começo a vislumbrar outra dimensão. Por mim comodamente dita catedral. Sobre paisagens delicadas, contornadas, sabiamente contruídas. Acerco-me do último Restauros . Subo novo degrau na espiral vertiginosa. Ainda é cedo. Mas já existe a casa. Ninguém espera o teu regresso. Imerso no sangue das palavras, o poeta constrói já sobre ruínas, colecciona vestígios do mar que já não somos, restaura-se e extrai as palavras do próprio pulso, de novo se ausentando de si em si. O despertador toca. Ninguém espera o seu regresso.
Entretanto, dispersou alguns textos seus por jornais e revistas , não sendo fácil um conhecimento cabal da sua obra poética e ficcional, até porque boa parte dos seus textos permanece impublicada e apenas se oferece ao espaço convivial de muito poucos. Um outro lado existe: dramaturgia, narrativa breve, pintura e escultura são outros caminhos. Caminhos: não estranho mesmo que um deles conduza a Santiago.
Acabo. A interpretação é a possibilidade do erro. Avance quem quiser.
António Gil, professor e poeta, hoje foi dia de te bater à porta. Viemos a tua casa “fazer do mundo nossa ilimitada casa.” Poderemos entrar nela?
























5 comentários:
m a g n i f i c o
o Gil.
o texto. as citações.
a visita.
a casa.
beijo Martim.
Este é um poeta muito interessante. Lembro-me de já ter falado com ele. Boa-noite!
O Gil é da casa da poesia. abraço.
boa tarde martim e os demais
.
e no entato lembro-me:
...
«por vezes ao sair de casa fechando a porta chego a ter receio de entalar a última frase...» [António Gil]
abraço
obrigado, isabel, alice, konde e porfírio, por nos encostarmos a estas palavras. abraço.
Enviar um comentário