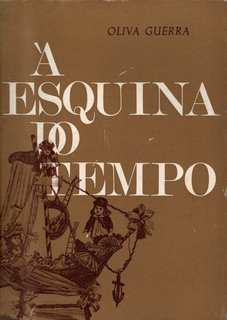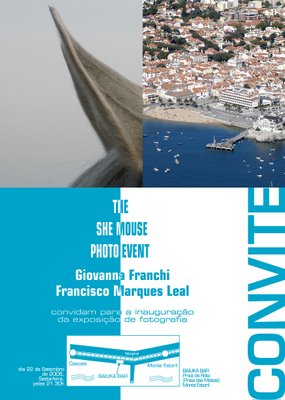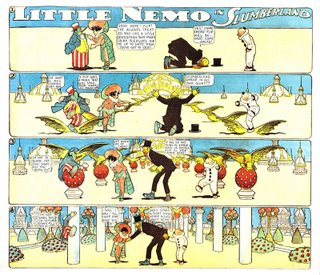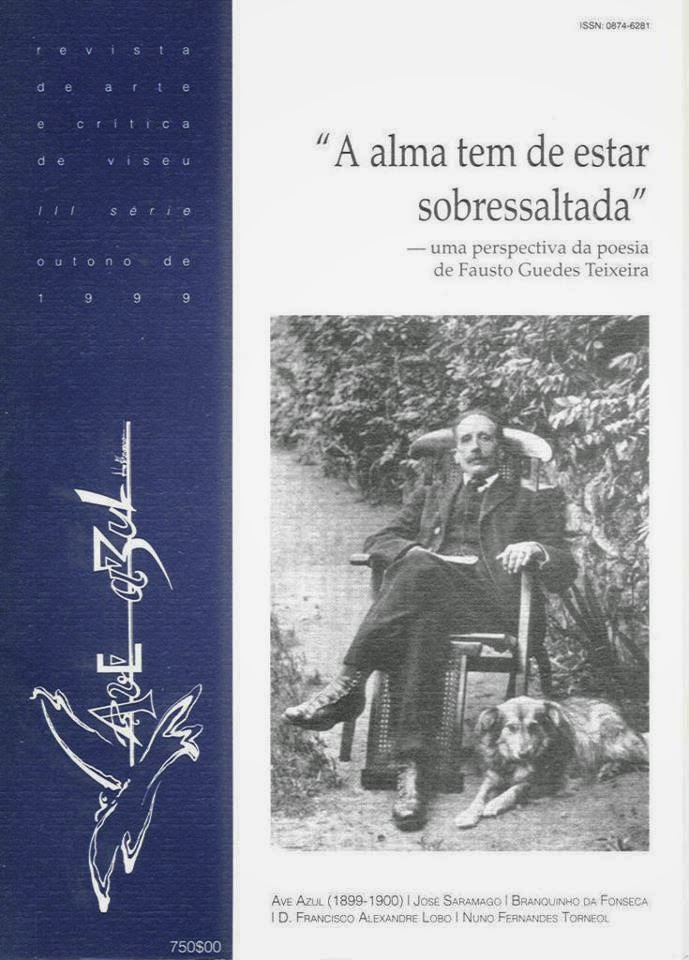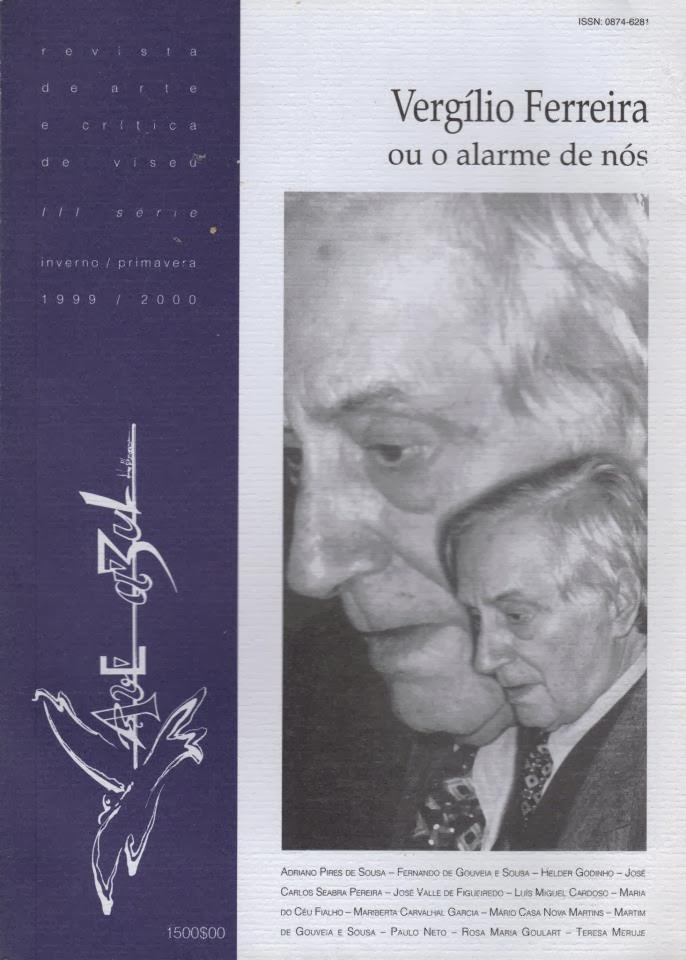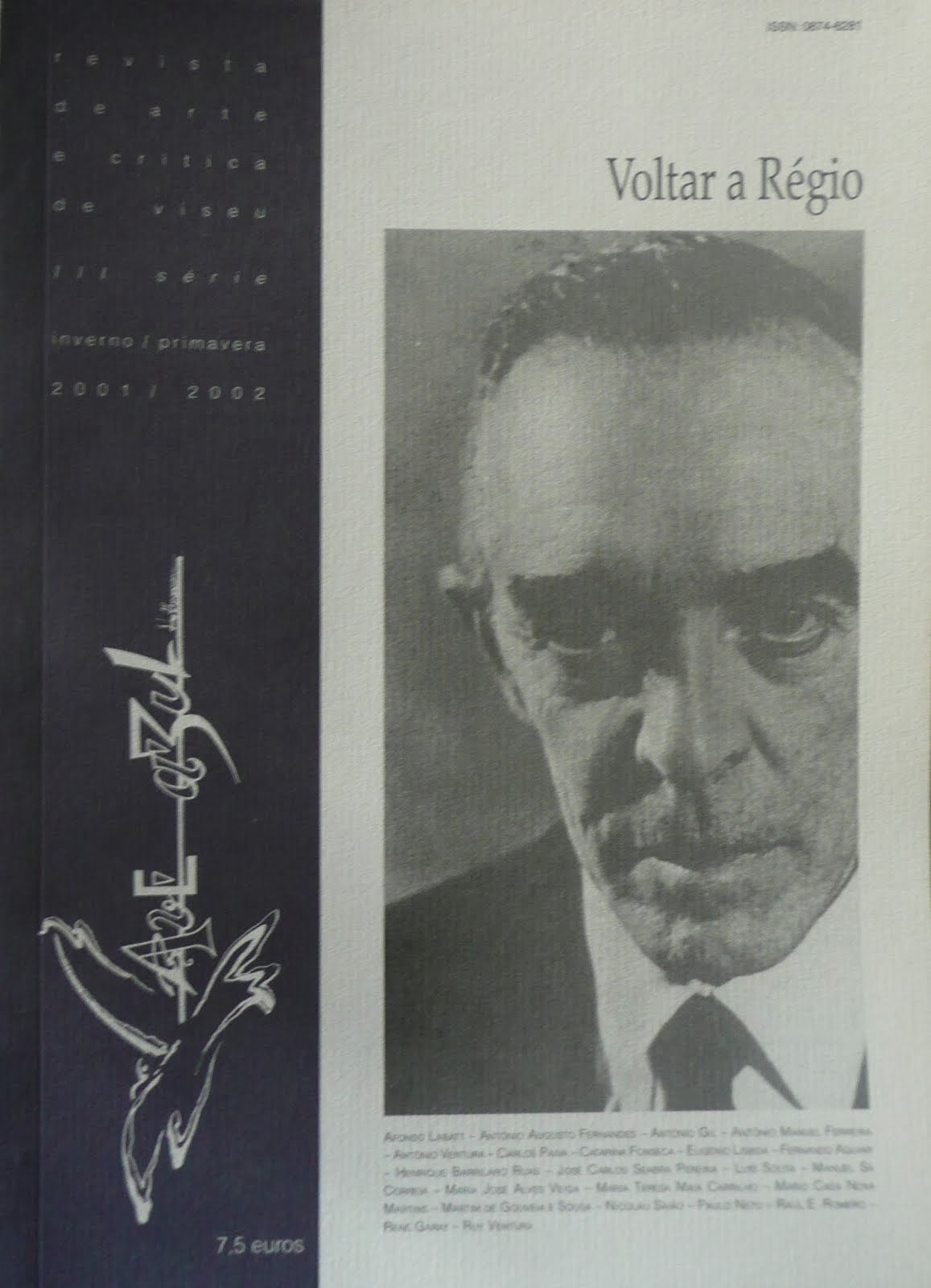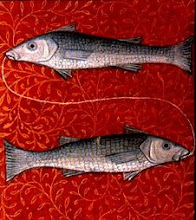“é que eu gosto do mistério.”
“é que eu gosto do mistério.”
(Branquinho da Fonseca, «Carta a Alberto de Serpa», M-SER-426(6))
Decidiu o acaso, através da humana intervenção de António Manuel Ferreira, que se juntassem neste painel comunicações sobre Carlos Queiroz e António de Navarro. Coincidência influenciada ou não, o certo é que Manuel Anselmo, no “Pequeno ensaio sobre o movimento modernista português” de 1937, estabeleceu um dignóstico sobre os mesmos poetas, emparelhando-os com os seguintes dizeres: “Carlos Queiroz e António de Navarro caminham, com segurança, para uma ambição formal que se poderá chamar sinfónica. Queiroz mais descritivo, (…) Navarro, mais musical” (Anselmo, 1937: 236). Com a música e com Navarro sigo, pois, celebrando a coincidência e o nome maior de Branquinho da Fonseca.
António de Navarro colaborou na
presença desde o primeiro número e, no ano em que Régio se licenciou com uma atrevida tese de licenciatura, o seu vanguardismo era já o da linguagem sms. E, no entanto, muito silêncio se foi instalando…
Os actos poéticos são muitas vezes afectados pela descontinuidade e pelas bruscas aparições. Sem norte, o fio da poesia busca sentidos, ainda que, relativamente a Navarro, se deva antes falar de isolamento e de ausência
[1]. Um caso clássico de interrupção e de continuidade é o de Rainer Maria Rilke, que, dez anos passados, logrou o verso concatenador nas suas Elegias de Duíno. O verso de resgate que Navarro cifra inscreve-se na matriz da portugalidade e é um acto contínuo sobre o mistério e o grande mar. E é talvez esse o nodal lugar de encontro de Branquinho da Fonseca com António de Navarro: se o primeiro deixou no nº 3 da revista Litoral “sete importantes poemas, que formam uma pequena colectânea” (Ferreira, 2004: 39) intitulada “Sete poemas do mar”, o segundo multiplicou o determinante numeral cardinal pela obsessão e fez do mar a sua pátria. Mas, pensando melhor, o mar é uma presença constante
[2] nos universos navarriano e fonsequiano, revelando-se ainda, na justiça das águas pacificadas, ser Navarro mais poeta e Fonseca mais lírico.
Adolfo Casais Monteiro, ao reflectir sobre aqueles “que mais conscientemente se integraram no espírito renovador da revista”(Monteiro, 1972: 29) presença, não hesita em adiantar Régio, Branquinho da Fonseca, Edmundo de Bettencourt, António de Navarro, Carlos Queiroz, Francisco Bugalho, Fausto José, Saul Dias, Alberto de Serpa e o seu próprio nome.
O trajecto de António de Navarro (e aqui digo acção cultural e obra literária) é um curso fluente e invulgar.
[3] E o início dessa qualidade supletiva encontramo-la desde cedo, desde, por exemplo, a admissão de Mário Coutinho, em páginas do Diário de Lisboa (13 de Março de 1925), de haver um “movimento futurista” liderado por nomes como “José Régio, Celestino Gomes, António de Navarro, João Carlos, Abel Almada” e o seu. Navarro, muito dentro da dinâmica artística do momento, então sob o pseudónimo Príncipe de Judá
[4], podia assinar manifestos epigonais e “pastiches” do Futurismo, podia mesmo, em “conferência sensacional” intitulada “Sol”, ser pateado no Teatro Sousa Bastos de Coimbra
[5]. Fernando Guimarães, glosando António Ramos de Almeida
[6], admite mesmo que há em António de Navarro “uma certa adesão a um imaginário ou mesmo receituário futurista” (Guimarães, 2000: 42), o que se torna evidente se relembrarmos uma parte do Manifesto publicado em Coimbra, nesse mesmo ano de 1925, e assacável ao nosso Poeta:
Os cegos olham kom os olhos dos outros ke já olharam e nós keremos olhar com os olhos dos outros ke já olharam, mas kom toda-a-força kom os nossos olhos e sentir kom a nossa alma. Keremos eskalar o Universo ke se fez pra nós o eskalarmos. A alma tem o Universo dinamiko em si, mas nós ke somos o alem-Universo ultradinamico. // Arte é movimento, é Universo dinamiko, é animismo veloz.
[7]Em breve, e em colaboração continuada entre 1927 e 1932, seria o tempo da presença. Aí voltará intermitentemente, depois do escândalo provocado pelo seu poema “O braço do Arlequim”
[8] saído no primeiro número, ele que era e é o segundo poeta da revista, de acordo com a data de início de participação e o critério de Casais Monteiro lavrado na “Bibliografia” da sua Antologia. Olhando o acúmulo de poemas, quase todos impublicados em livro, diga-se que o conjunto é ainda hoje surpreendente de agilidade e leveza poéticas. Aliás, é um estruturado David Mourão-Ferreira quem defende que os poemas presencistas de Branquinho da Fonseca, António de Navarro e Edmundo de Bettencourt são admiráveis “realizações do nosso vanguardismo pós-modernista” e são «os que melhor documentaram a inquieta continuidade do espírito de Orpheu, tanto pela aguda desconfiança a alternar com a crença desmedida nos poderes da palavra, como pelo reiterado pendor para a visão alucinatória do concreto e para a expressão aparentemente cândida do insólito.» (Mourão-Ferreira, 1969: 206-207). Nesse espaço de tempo, em 1930, colabora Navarro na organização do
Cancioneiro[9], antologia de poesia modernista portuguesa, defluente do “I Salão dos Independentes” que Diogo de Macedo e António Pedro organizaram em Maio desse ano. E aqui me detenho um pouco, para dizer que Navarro aí participa com quatro poemas. Um deles, “O automóvel azul”, chega a ser admirável de leveza e eficácia fónico-rítmica:
O cláxon zine…
e a fuga é toda azul
(anil
de ozone
num uuul
de cone)
na fita branca da estrada
parada
ao sol…
E o acordeón
do cláxon
retine e zine
ainda em som
lá longe
na amplidão
infinda.
É tudo instável,
ave,
como o automóvel…
lá – lá!...
no vértice acutângulo
dum ângulo
agudo e móvel
na clave
móvel,
da vibração.
[10] Voltando à presença desse mesmo ano e avançando para a do ano seguinte, não posso deixar de destacar uma significativa “Ode ao Senhor António de Navarro, Rabi-Mor de Portugal e dos seus Versos”
[11] de António Pedro e um “estudo para um ensaio”
[12], inusualíssimo, que acaba por desejar transmitir em poema a oração final de Ângelo de Lima.
Em entrevista ao “Suplemento Literário” do Diário de Lisboa (1 de Março de 1935), José Régio, instado sobre o rejuvenescimento ou a crise da literatura portuguesa, defendeu que dessa tensão terá resultado um renovo integral, de motivos e meios de expressão. Quando o director da presença emitiu tal juízo, estávamos em finais de Fevereiro de 1935. Tal vitalidade expressou-a Régio com a seguinte tirada que faz de António de Navarro uma presença real e importante no panorama nacional:
“Os motivos poéticos de Mário de Sá-Carneiro, de Fernando Pessoa, de António Botto, de Adolfo Casais Monteiro, de Adolfo Rocha, de António de Navarro, de Edmundo de Bettencourt, de Branquinho da Fonseca, de Saul Dias,etc.,- não são os de Bernardim, Garrett, Soares de Passos ou Junqueiro.”
Algo mudara, pois, na literatura portuguesa e António de Navarro estava lá. A voz autoritária que o disse é aquela mesma sobre a qual Miguel de Sá e Melo (1936) não hesitou no acto judicativo absolutizante: “José Régio é quanto a mim o maior poeta português vivo.”
Os “Dez minutos com António de Navarro” estampados no “Suplemento literário” do Diário de Lisboa de 22 de Janeiro de 1937 apresentam o poeta presencista como “um dos líricos mais belos da nova geração”.
[13] E é mesmo um habitualmente ácido Luiz Pacheco quem, depois de apodar Navarro como um sujeito “de feitio agreste, quase violento, um tanto maníaco e forreta”, o classifica de “poeta excelente” (Pacheco, 2004: 136)
[14], certamente pensando em poemas nunca recolhidos em livro como “Bacanal”, “Os Medronheiros”, “Poema” ou “Bordel”, que leio, para o centro da memória, lembrando ainda que esta composição tem sido vista, por alguma crítica, como integrável nalgum expressionismo europeu de devastação vocabular e atomização poemática. Mas, ouçamos “Bordel”:
Horas mortas…
… turvas
tortas
agora
e toda a hora…
… Ámen!
Portas tortas
abertas
hirtas
abertas
tortas
retortas
de trincos
e trancas
partidas
E tudo torto
- mas tudo…
tudo torcido
e contorcido
e turvo e torto…
… mas, sobretudo
mui… muito torto,
tão hirtamente…
… terrivelmente!
E há horas brancas
adormecidas
nas horas pretas
e há um fado
cantando
contando,
embalado,
a sina de todas
que tu, e eu, mais enlodas
(Baixinho, que ninguém ouça!
Podem chamar-me doido…)
Pressinto,
quando entro,
não sei porquê!
o Cristo
e a Virgem Mãe
lá dentro
naquele antro
a par e ao pé
dum Mefisto
de quebranto
estranho encontro!...
Agora,
e toda a hora…
… Ámen!
[15] O primeiro livro de poesia de Navarro é
Poemas d’África (1941). Em prefácio ilustrativo, João Gaspar Simões defende que o Autor é um “poeta puro”, para quem a poesia “é mais um estado do que um meio”. Da influência da curta presença por Lourenço Marques resultou esta colectânea de estranha sensualidade poética (“Ai, que volúpia, meu deus feitiço”) vinda do hálito morno da terra, abundante de sinestesias e raras metáforas, aí pontuando ainda a fascinação pelo seniano “vocabulário tecnicista”.
[16] Não denegando o convencionalismo ocasional ou a linguagem confran-gedora aí entrevista por Eugénio Lisboa (Lisboa, 1980: 87), extensiva, ainda segundo o clerc do ensaísmo português, a toda a obra navarriana, direi poder haver nela algo mais
[17]: por exemplo, a “disponibilidade verbal transfiguradora” que retoma o que existe “de mais exaltante em Ângelo de Lima”, como o notou um Fernando Guimarães (1977: 45), ou a “ebriedade dionisíaca” de que fala Óscar Lopes (s.d.: 800).
Logo de 1942 é
Ave de Silêncio. Trata-se de um livro de aparente simplicidade natural, em que o sujeito poético, fundido nos elementos, assiste à “história do mundo” e à legibilidade do seu espírito. Leve, quase suspenso, cada avanço poemático é um encontro com o vento e com o melhor silêncio. Muito próximo até de algum Pessoa ou Caeiro, Gaspar Simões nota-lhe um “pendor discursivo e conceituoso” (Simões, 1976: 306). Óscar Lopes, por seu lado, classifica-a de emblemática (s.d.: 801).
Em 1951, Eugénio de Andrade dedica a António de Navarro o poema “Para um pássaro” (Cf. Sísifo, nº2-3). Nesse mesmo ano, António de Navarro dedica “Poema” a Eugénio de Andrade (Cf.
A Serpente, fasc. 3). Em 1956, publica-se uma ode de Navarro na obra
Até Amanhã de Eugénio de Andrade (Lisboa, Guimarães Editores).
Poema do Mar (1957) contém interessantíssimos ambientes poéticos, nomeadamente os habituais momentos de tonalidade marinha da Nazaré, que Branquinho tão bem cultivou em Mar Santo (1952) e que convocam os arcanos da própria poesia. Não obstante, confesse-se, nem sempre o voo é altaneiro, avultando alguma vulgaridades e imensíssimas gralhas, que, não embotando a qualidade poética, obscurecem o interessante influxo da acédia que muitas vezes, exuberante e eficazmente, reganha indenegável centralidade. Um dos pontos frágeis desta colectânea é, para Gaspar Simões, uma certa retórica barroca e discursivista presa à racionalidade, lembrando “o mau Junqueiro e o pior Gomes Leal”.
[18] A propósito desta obra, Taborda de Vasconcelos (Vasconcelos, 1958: 109) salienta haver na colectânea autenticidade vibrante e emotiva e novas impregnações sugestivas. Há também um motivo, que, sendo constante, assume aqui particular relevância: a explosão da metáfora percutiva, vinda de uma oficina ressonante alimentada de solidão.
Segue-se Águia Doída (Poemas d’África), de 1961, livro influenciado pela permanência por terras africanas, que convoca para o fogo interpretativo todos os abismos da nostalgia e do mistério, com fundadas ligações ao Quinto Império e ao monarquismo. A pregnância do ignoto comprime o sujeito poético, reservando-lhe o delicado papel de escutar os ritmos e sinais da natureza (“Sinto ainda passar nas tardes mornas”). Canto da ausência, do desenraizamento e da evocação, a poesia de António de Navarro é ainda abundante de sensações musicais (“Onde a vida foi, fugitiva, / a forma inatingível, / a pura música cativa”) e cromáticas (“Onde o sol, de crista de oiro, / cantou, a sombra alaga / e alonga…”). Como se a carne fosse também distância…
Na morte de Raul Leal, em 1964, coube ao Poeta a palavra “à beira da campa do velho companheiro”
[19]. Em amizade conjunta andavam ainda Álvaro Ribeiro, Pinharanda Gomes, Azinhal Abelho e Francisco Brito.
Em 1971, António de Navarro publica Coração Insone, obra que contém obras anteriores e insere Vigília Distante. Acentua-se a linha sebástica e sacral (“- um lírio / de abismais / na minha de Dom Sebastião mão de gládio / e Espírito”), com reiterada visita ao magnetismo africano (“Na tarde, ai as tardes de África, / tão sequiosas de noite e calma!...”) e ao esoterismo místico (“Templário e longe, litúrgico, - tu que nasceste / ungido da água duma fonte secreta e mística.”), numa poesia lavada visceralmente por sangue revelador.
Guitarras em Madeira d’Asa (1974) é, como o defende Pinharanda Gomes, um livro profético-sapiencial, pleno da admonições e de reganhos épicos. Homenagem também a D. Sebastião e ao seu Aposentador-mor Francisco Navarro, é do Sacratíssimo Rei que importa falar, mergulhando-se, através do “mar da poesia”, na protologia do mito sebástico e na sua irradiação. Deflagram no universo univocal navarriano relâmpagos azulescentes (“falcões caçando azul”, “bebendo-se azul”, “centauro azul”…) que combatem o pensamento vulgar e afirmam, simbolicamente, um ideário monárquico alicerçado no curso vital pundonoroso (“Eu vi El-Rei chamar a noite / Com sua alma de guitarra luacenta…”).
Antes do fim, publica ainda António de Navarro a colectânea poética O Acordar do Bronze (1980), obra que sublima a pervivente ambiência marinha e a definitiva tergiversação da presença a Orpheu, encastoando a sua produção sob o signo da lusitanidade e do sofrimento:
Grandes águias dum verde transcendente
Evoca nas noites e nos sóis
De Sagres, evocando os teus e nossos heróis
E a nossa terra de heróis, o mar
E tua alma por eles te sagres,
Sagrando os sóis…
Olhando algum passado, muito custa, no sentido de Vyvyan Holland, concluir que uma das represálias mais sérias é a condenação ao silêncio, nomeadamente quando o caso se refere a um escritor invulgar como se o completo nome, António de Albuquerque Labatt de Sotto Mayor Navarro de Andrade, fosse o gelo e a desmesura, encostado pelos apodos do intelectualismo, do discursivismo, do retoricismo e do neobarroquismo.
António de Navarro, podendo sugerir, por um lado, uma certa confusão verbal ou até mesmo uma falta de domínio das palavras
[20], é sempre um poeta historicamente dotado, proveniente que é da fibra orpheica
[21] e do tempo da originalidade excêntrica. Navarro persegue a música e o sentido obscuro da natureza, muitas vezes se confundindo na demanda com explosões e redemoinhos verbais e outras tantas logrando, no dizer avisado de Casais Monteiro, “das mais belas expressões da poesia no nosso tempo” e “uma arquitectura que se aparenta à de Álvaro de Campos”
[22]. Navarro como Casais Monteiro, Saul Dias e João Falco (Irene Lisboa) algo devem a Campos e a Almada.
Diferente e original, no entanto, há em Navarro um quid escutador à maneira de Sophia, diferente do nemesiano “poeta absorto”, que faz dele um escritor que sobrepõe a sua natureza à Natureza, aprofundando-se numa arte poética do pressentimento. Dividindo-se, segundo António Manuel Couto Viana (1994: 61), entre o “barroquismo pujante” e o “lirismo epigramático”, a poesia de António de Navarro entra pelos tímpanos.
Sem completude, a obra navarriana espera, na sua seiva torrencial, um olhar atento dos novos e bons leitores, aprofundando-se, por exemplo, a vertente surrealista que Natália Correia cavou, inserindo “Bacanal” na lei essencial dos estados alucinatórios.
[23] Poesia do relâmpago e do instante indecifrável e extático, linfaticamente explosiva, para dentro ainda implode cada verso tantas vezes surpreendente. Não seria sequer difícil ou moroso antologiar um sem número de lugares maiores da nossa poesia nesses versos deslembrados
[24]. E os melhores deles serão muitas vezes conseguimentos isolados que são a própria estrutura da “casa da poesia”, como este, que mostro, vindo do tempo do fim (“Cada vez mais as coisas sonham.”), em matriz profética que o tempo, acredito, haverá de coonestar. Abrem-se ainda, neste fio que desenrolo, o modo irónico associado à poesia de António de Navarro ou o seniano “dadaísmo inconsciente”
[25], bem como a questionação e desconstrução poemáticas, linhas, aliás, entrevistas por Fernando Guimarães (2002). Decantam ainda no labirinto cerebral da crítica presencista as palavras cristalinas de Gaspar Simões que o dizem “poeta integral” (Simões, 1964: 340)
[26] ou o asserto de António José Saraiva e Óscar Lopes que alude ao extravasamento dos “limites entre a consciência e a natureza” (Saraiva-Lopes, 1956: 934). Mas até quando?
Recolho a disseminação e dou de novo. António de Navarro é um caso de silêncio a resolver. Próximo, pela voz da crítica, do paroxismo e do delírio fantasista de Sá-Carneiro
[27] e de Almada, do mistério ocultista de Pessoa e de Ângelo de Lima
[28], da técnica compositiva de Álvaro de Campos ou da sugestão transcendente de Pascoaes, há no Poeta um fio de transmissão que conduz sempre à “casa da poesia”.
Abrem-se, pois, novas portas e outros sentidos. O tempo do resgate vai chegar, começa a chegar. Sem vazio, a nossa presença é já a força da presença. Hoje e ontem, aqui.
[1] Informa Taborda de Vasconcelos (Vasconcelos, 1958: 108): “É único e exemplar o caso de António de Navarro, homem que tem vivido poeticamente, em estado de quase permanente isolamento, o tempo todo da sua meia idade civil e o da sua juventude.” Acrescenta ainda o crítico que o Poeta “vive de ausência e apagamento em face das múltiplas solicitações da vida”.
[2] E não só. Lembro, v.g. , que João Campos publicou nas Edições “Presença” um livro não despiciendo intitulado Mar Vivo (1939) com seis poemas integrados na colectânea “6 Poemas do Mar” (1939: 11-26).
[3] Franco Nogueira di-lo “um dos mais originais poetas modernos” (Nogueira, 1954: 258); João Gaspar Simões diz que António de Navarro se afirma “como um dos casos poéticos mais originais” (Simões, 1976: 304), juntando que ele “mostra uma personalidade a muitos títulos nova na poesia portuguesa” (Id., 1977: 335); Clara Rocha inclui o Poeta nos nomes importantes “do núcleo presencista” (Rocha, 2003: 68). Franco Nogueira, no capítulo VIII “Seis Poetas Maiores” da obra atrás mencionada, elege como figuras gradas Afonso Duarte, José Gomes Ferreira, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga e António de Navarro. Manuel Antunes refere-se-lhe como um poeta indispensável “do movimento modernista em Portugal” (1987: 176). Um exercício legitimador do peso de Navarro (principalmente como presencista) é, por exemplo, a mera observação empírica do “Índice de Autores” de Santarém Andrade (1980: 367-370), que permite concluir só existirem mais menções para, e pela ordem, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, João Gaspar Simões e Fernando Pessoa.
[4] Veja-se a entrevista com o Príncipe de Judá no Diário de Lisboa de 17 de Abril de 1925.
[5] Sobre o “rótulo” apensado a Navarro e aos jovens poetas presencistas, adianta o mesmo Gaspar Simões (Simões, 1977: 142-143): “Não faltavam, porém, motivos para escandalizar a academia, a qual, ao contrário do que estipula a lenda, desmascarada por António Nobre, se gozava de créditos intelectuais, a um pequeno escol o devia. (…) O Braço de Arlequim, de António de Navarro, por exemplo, (…) arrancou uivos às alcateias de capa e batina. De facto, o que desde logo espevitou a troça e deu guita ao papagaio do escândalo foi a colaboração poética do jornal. Além de António de Navarro, que então entalava o pescoço em altos colarinhos de goma a condizer com as camisas, igualmente engomadas, o qual, pouco tempo antes, lançara um manifesto literário-artístico de tom escandaloso, exibindo-se, numa conferência pública, na sala de um teatro às escuras” (sublinhado meu). Óscar Lopes (s.d.: 749), por seu lado, informa que desse grupo do manifesto se destacava António de Navarro.
[6] António Ramos de Almeida (1945: 47) refere-se ao “futurismo formal de António de Navarro”.
[7] O texto integral do Manifesto, em que colaboraram, para além de António de Navarro, Mário Coutinho, Celestino Gomes e Abel Almada, encontra-se disponível em Os Modernistas Portugueses, 1º vol., Porto, s. d., pp. 103-118, com coordenação de Petrus.
[8] Fernando Guimarães (1977: 30) refere que tal poema terá contribuído para “aumentar um possível mal- -estar” e Maria Teresa Arsénio Nunes (1982: 16) diz tratar-se de um trecho que “marcaria a presença desta Presença”.
[9] Este Cancioneiro (AAVV, 1930) foi editado em Lisboa, pela Imprensa Libânio da Silva, tratando-se de um in-fólio de 27-I págs. A abrir informa-se: “é dedicado este CANCIONEIRO à memória dos precursores Cesário Verde, Camilo Pessanha, Ângelo de Lima e Mário de Sá-Carneiro”. Para além de poemas dos autores citados (de Cesário, integra-se “Manhans brumosas”; de Pessanha, “Poema Ninive” e “Gelo de Lim”; e, de Mário de Sá-Carneiro, “Uma das Sete canções de declínio”), a publicação encerra colaboração de Adolfo Rocha (“Inauguração” e “Triunfo”), Adolfo Casais Monteiro (“Vagabundo”, “Film” e “O que hoje”), Alfredo Pedro Guizado (“Recordando” e “Mãos de cega”, Álvaro de Campos (“Addiamento”), Fernando Pessoa (“O menino de sua mãe”, “Gladio”, “Gomes Leal” e “Canção”), António Ferro (“Rua do Oiro”), António de Navarro (“Aroma”, “Methempsicose”, “Canção da amargura” e “O automóvel azul”), António Pedro (“Quarta Feira de Cinzas”, “Canção”, “Canção quebrada a certa luz violenta” e “Diário 8º”), Augusto Ferreira Gomes (“Extrangeiro”), Augusto de Santa-Rita (“O Preto-Papusse-Papão” e “Pápim ao estudo”), Branquinho da Fonseca (“Poema duma epígrafe”), Carlos Queirós (“Barcarola”, “Intermezzo”, “Canção” e “Soneto”), Cortes Rodrigues (“Outro” e “S Ó”), Edmundo de Bettencourt (“Cómico” e “Nebulosa”), Fernanda de Castro (“Sol de Paris” e “Comunhão”), Gil Vaz (“Ophélia”, “Adeus”, “Romance” e “Azul”), Almada Negreiros (“Rondel do Alemtejo”), José Régio (“Espírito”, “O jongleur de estrelas e o seu destino” e “Frente a frente”), Luís de Montalvor (“Antiquário” e “Canção”), Mário Saa (“Xácara das mulheres amadas” e “Xácara do infinito”) e Violante de Cysneiros (“Poema”). Como se vê, a presença participa neste Cancioneiro de corpo e alma, sugerindo a obra, no plano estrutural, o critério que Casais Monteiro veio a adoptar cerca de três décadas depois.
[10] Cf. Cancioneiro, I Salão dos Independentes, Lisboa, Imprensa Libânio da Silva, 1930, pp. 4-5..
[11] Vide o nº 28 da revista presença.
[12] No nº 31-32 da presença, estampa-se, entre as páginas 11 e 13, um artigo de António de Navarro cujo título é “estudo para um ensaio – Ângelo de Lima”.
[13] Loc. cit. Eis o teor integral da peça jornalística, que, pelo manifesto interesse, transcrevo, com correcção e actualização textuais:
“António de Navarro pode considerar-se dos líricos mais belos da nova geração.
Não faz poesia pela rima, nem procura a dor como uma fácil profissão da sua arte. Vai mais longe, mais alto, descobrindo com louca ansiedade as pontes eternas da emoção, sem nunca se dessedentar, promessas de beleza divina, cantos ignorados de mistério, e cenas misteriosas de vida espiritual. Nestes rápidos dez minutos marca, impressionante, a sua personalidade.
Ides ver como:
- Como escreve?
- Resposta bem simples e bem complicada como tudo afinal aonde procuramos encontrar-nos inteiramente. Que eu responda pelo mais simples, primeiro: em aventura, isto é, sintetizando num momento, que pode surgir em qualquer parte, inesperadamente, uma longa série de transes que podem ir do físico ao espiritual. Foi a Vida que entrou em mim sem eu dar por isso e que um dia veio a revelar-se, consubstanciando-se em palavras. Essas palavras, que se organizam segundo um ritmo que a emoção criou – são a obra. Mas, se eu analisasse com mais minúcia, veria em certos momentos a minha alma fora de mim, tacteando o visível ou mesmo o invisível e senti-la-ia no regresso como a ave que precisa de libertar-se, e, novamente, tocar os centros intelectivos onde as emoções se iluminam duma nova luz.
O artista escreve, pois, sobretudo, com a alma, mas grava com a cabeça. A pena é um simples objecto acidental e de préstimo limitado; as penas, sim, essas ainda valem – levam-nas, ao menos, ao voo dramático que todo o artista precisa de sentir. Há, de facto, escritores que precisam de um ambiente. O meu são os meus sentidos que nunca dormem, e é para eles que eu escrevo, e para me libertar dum grande peso. É, afinal, e só isso – uma forma de alívio. Mas, escrevendo para mim, tudo o que eu faço é para aquele mendigo, é para aquele que olha uma rosa e não vê o mundo, e não vê mesmo no mendigo a mais formidável doutrina social. Escrevo, em última análise, e talvez subconscientemente, para ensinar, mas sem fé nenhuma, num apostolado admirável porque vai contra mim próprio, obrigando-me a acreditar, pelo menos, no mais inverosímil, para ensinar, dizia, o homem a ser bom. Isto é: a ser sensível, a ter a heroicidade de procurar na beleza, que tantos desprezam, porque a não vejam talvez, as armas duma guerra santa da perfeição e da harmonia.
- Por que não publicou ainda nenhum livro?
- Não sei bem – talvez pense demasiadamente na perfeição… e na imperfeição dos homens. E depois ainda – contos largos… Basta dizer-lhe que em Portugal só pode haver poetas ricos. Os outros, embora com valor, e não me refiro a mim, precisam de ter muita força de vontade. A Presença, por obra e graça dos meus amigos, está cheia de versos meus, versos que só me orgulham muito porque são estruturalmente meus. Sim, tenho alguns livros escritos, mas inéditos.
- O que pensa da poesia portuguesa?
- A poesia portuguesa, falo, claro, da poesia contemporânea que muito deve à Presença, e os próprios que a combateram e combatem estão hoje insensivelmente a ser influenciados pelo seu movimento renovador – é das formas literárias de que podemos sentir-nos vaidosos. É rica, variada, profunda. E todos os poetas, os que o são, procuraram em si próprios o alicerce anímico do seu edifício e, por isso, bem pouco devemos aos poetas nossos camaradas doutras literaturas. Hoje, como quase sempre. E as próprias influências individualizaram-se, criando assim uma forma inteiramente nova e distinta. Quer dizer: a força do nosso temperamento traiu aquilo mesmo que buscou. Assim com Junqueiro, com Eugénio de Castro, e por aí fora…Eu já disse quase tudo sobre os nossos poetas – pois se eles são a poesia!... Que são verdadeiramente poetas, aqueles que o são… E, coitados, são duma teimosia admirável, apesar de presos, aqui, entre a Espanha e o Oceano, não há maneira de se resignarem, e lá vão impondo como podem a sua libertação, e, naturalmente, a desta ponta a SW.
Quero, todavia, sem esquecer nenhum, lembrar o nome de Fernando Pessoa, que Portugal e o mundo hão-de descobrir um dia. E sentir-se-ão ainda os portugueses terrivelmente descobridores ao encontrarem Alguém que a vida apagou, porque lhe não sentiu aquela série de qualidades, ou de defeitos, que tornam o homem inferior para si próprio, mas superior, aparente e transitoriamente, para os outros, perante as realidades. E querem uma revelação que será enfim o mais tragicamente interessante destas dúzias de frases, pelo que tem de revelador?... esse admirável espírito ganhou toda a sua vida 300$00 mensais, e sentir-se-ia muito feliz – confessava a um amigo – se pudesse vir a ganhar seiscentos, num lugarzinho modesto em que pensou mas que lhe não facultaram. Era assim este poeta português; dos outros saber-se-á quando morreram. Há ainda um outro, felizmente vivo, que a asa daquele anjo negro da desgraça tocou mais de perto, e, por isso, e porque o esquecimento da vida tem tentado apagá-lo, eu quero deixar aqui o seu nome: é Raul Leal. É um Poeta, uma Vida, e um Carácter.
[14] Também no Diário Económico, de 18 de Outubro de 1995.
[15] Este poema “Bordel” saiu na presença nº 20, integrando mais tarde, em conjunto com “Bacanal”, “Charleston”, “Glauca”, “Os medronheiros”, “Acrobatas”, “Poemas das Aves”, “Incêndio”, “Epitáfio (Para o túmulo do poeta)” e outras duas composições sob a designação “Poema”, a antologia presencista de Adolfo Casais Monteiro, A poesia da “presença”. Estudo e Antologia, que conheceu uma primeira edição em 1959 (Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, “Letras e Artes”-7), uma segunda em 1972 (Lisboa, Moraes Editores, “Círculo de Poesia”) e a recente terceira edição (Lisboa, Cotovia, 2003), com prefácio de Osvaldo Silvestre.
[16] Jorge de Sena (Sena, 1988: 79) refere que António de Navarro era uma continuação do futurismo de Orpheu e que a sua “fascinação do vocabulário tecnicista” foi sendo superada “por uma metaforização de acumulação progressiva”.
[17] De facto, na sua Poesia portuguesa: do “Orpheu” ao Neo-Realismo, Eugénio Lisboa dedica três páginas a Navarro, consignando um menor espaço a outros poetas presencistas, o que parece indiciar alguma bondade para com o poeta, aliás, visível na entrada para Biblos (Lisboa, 1999: 1068-1069), onde a perspectiva um tanto negativa aparece matizada.
[18] João Gaspar Simões, op. cit., p. 308.
[19] Eugénio Lisboa (coordenação), Dicionário cronológico de autores portugueses, vol. III, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1994, p. 336.
[20] Osvaldo Manuel Silvestre (Silvestre, 2000: 573) recorda, sintomaticamente a propósito de António de Navarro, que essa debilidade é muitas vezes defendida, nos textos de vanguarda, «como respuesta coherente al caos interior del hombre moderno.»
[21] David Mourão-Ferreira (Ferreira, 1989: 226) defende que António de Navarro “é talvez o que mais directamente prolonga, através do pendor para a visão alucinatória, alguma herança «órfica» do Orpheu”.
[22] Adolfo Casais Monteiro, loc. cit. , p. 31.
[23] Natália Correia, em O Surrealismo na poesia portuguesa (Mira-Sintra, Publicações Europa-América, 1973), inclui António de Navarro e assinala-lhe, com base no poema “Bacanal”, uma linha surrealista de desregramento raciocinado, subsumível na designação de “interpretações delirantes”.
[24] António de Navarro é, indubitavelmente, mais um caso de desatenção literária. Não existe atinência entre o labor do Poeta e a memória reflectida. Para tal, muitas razões terão contribuído, até o malfadado malabarismo poético que lhe é atribuído. Escassamente antologiado, talvez porque actos de desleitura à sua imagem se colaram, seguem-se alguns contributos, em colectâneas fora do estrito domínio da presença, no sentido da atribuição de um lugar de reconhecimento a António de Navarro: Enzio Vólture e Gino Saviotti, Poeti Moderni Portoghesi, “Collana di Studi dell’ Istituto di Cultura Italiana in Portogallo”, Lisbona, Edizioni di “Estudos Italianos em Portugal”, 1942, pp. 82-83 (“África”); Cabral do Nascimento (sel. e notas), As mais belas líricas portuguesas, Lisboa, Portugália Editora, 1945; José Régio e Alberto de Serpa (sel. e pref.), Poesia de Amor. Antologia Portuguesa., Porto, Livraria Tavares Martins, 1945, pp. 292-293 (“Canção”); José Régio e Alberto de Serpa (org.), Alma minha gentil. Antologia da Poesia de Amor Português, Lisboa, Portugália Editora, 1957, pp. 313-314 (“Canção”); Natália Correia, O Surrealismo na poesia portuguesa, Mira-Sintra, Publicações Europa-América, 1973, pp. 299-300 (“Bacanal”); Rodrigo Emílio (sel. e pref.), Vestiram-se os Poetas de Soldados. Canto da Pátria em Guerra. Lisboa, Cidadela, 1973 (“Fito na noite a nossa estrela”); Vasco Oliveira e Cunha et alii (org.), “O Regresso à Condição” Viseu, ut pictura poesis, Viseu, ISPV, 2001 (“Onde a vida foi, fugitiva”). Há, no entanto, uma conclusão óbvia: a de que o Poeta perdeu visibilidade nas últimas décadas. Por exemplo, Reis Brasil, no capítulo XI “Modernismo e Tradição” da sua História da Literatura Portuguesa, depois de destacar os nomes de José Régio e Miguel Torga, abre um lugar para “Outros Poetas”, aí inserindo Adolfo Casais Monteiro e António de Navarro, com notícia circunstanciada. Em final de capítulo, diz-se: “Para findar este capítulo queremos ainda registar os nomes de Saul Dias, Irene Lisboa, Branquinho da Fonseca, Edmundo de Bettencourt, António de Sousa, Alberto de Serpa, Carlos Queirós, Francisco Bugalho e Pedro Homem de Mello.” (Brasil, 1971: 434). Este facto literário é importante e revelador.
[25] Jorge de Sena (1946: 6) integra Navarro nos antologiados que se salvam. Na página seguinte do Mundo Literário, plasma-se um anúncio às Líricas Portuguesas de Cabral do Nascimento, dizendo-se que lá se inserem “308 poesias dos 50 poetas mais representativos dos últimos 50 anos, de António Feijó aos modernos: José Régio, Vitorino Nemésio, António Botto, António de Navarro, Armindo Rodrigues, Alberto de Serpa, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, Casais Monteiro, etc.”. A exemplificação editorial não omitiu o caso de Navarro, o que pode indiciar a aura de prestígio que o nome do poeta concitava.
[26] As palavras são estas: “De facto, António de Navarro é poeta integral, um tão completo e puro poeta que se torna quase impossível distinguir nele o que é humano do que é poético.” (Simões, 1964: 340). Na página seguinte, João Gaspar Simões refere ser Navarro “um continuador de Ângelo de Lima ou um discípulo dos poetas gongóricos”.
[27] Fernando Cabral Martins (1994: 28) vinca esta influência e refere-se mesmo a uma citação que Navarro fez de Mário de Sá-Carneiro. Mais à frente, o mesmo académico diz que Navarro imitará os modernistas (1994: 61).
[28] Cabral Martins (1994: 128) exalça a singularidade do “Estudo para um Ensaio. Ângelo de Lima” que António de Navarro publicou no nº 31-32 da presença, salientando que a justaposição do ensaio e do poema é algo que “rompe com todos os hábitos.” Este ensaio, resultante do colóquio celebrativo do "Centenário de Branquinho da Fonseca" ocorrido na Universidade de Aveiro e organizado por António Manuel Ferreira, em 2005, foi posteriormente publicado no corpo das actas, em separata e neste mesmo sítio há meses atrás. Libertado aqui de anexos e outras referências, serve aqui de homenagem à Voz Portalegrense e ao Sexo dos Anjos, que simpaticamente a nós se referiram, citando assertos críticos sobre António de Navarro ou assinalando homenagens a Fernanda de Castro e Judith Teixeira. Obrigado, também porque os sentidos possíveis estão em nós.
 se o caos de novo não vier
se o caos de novo não vier