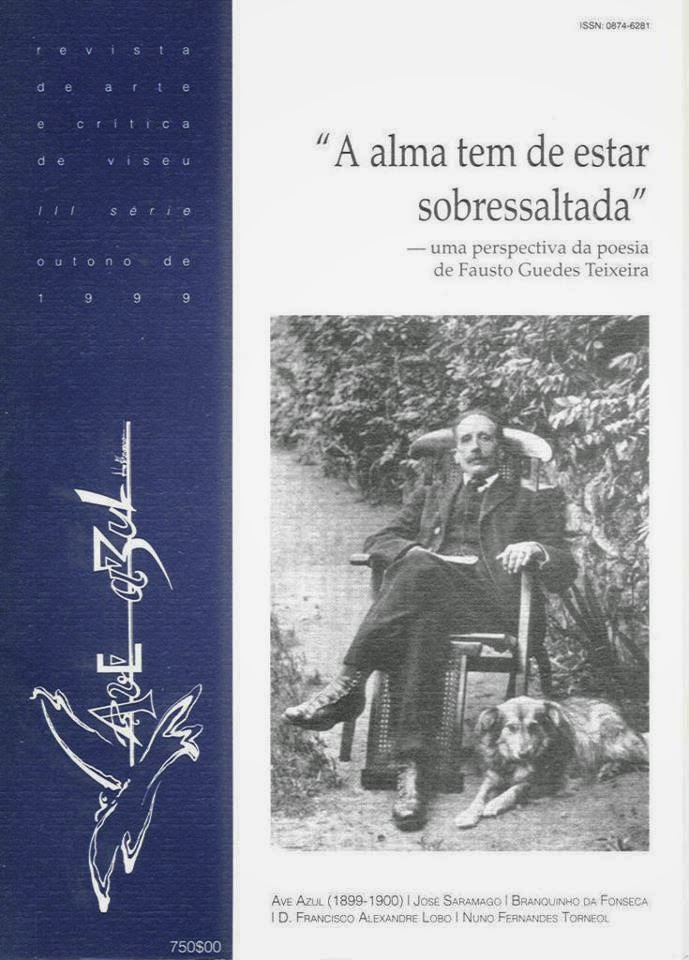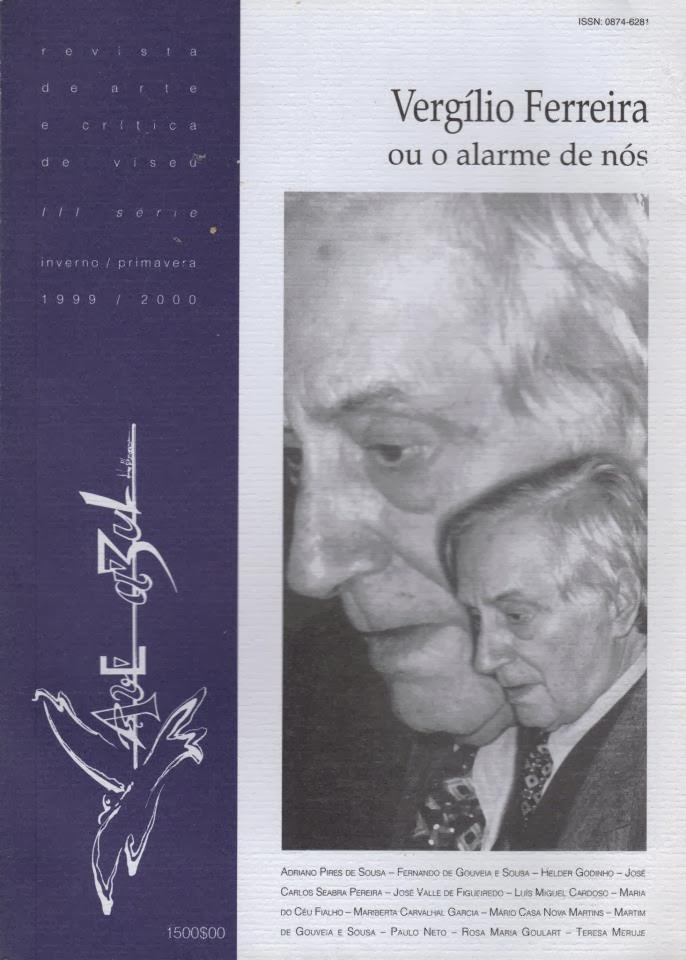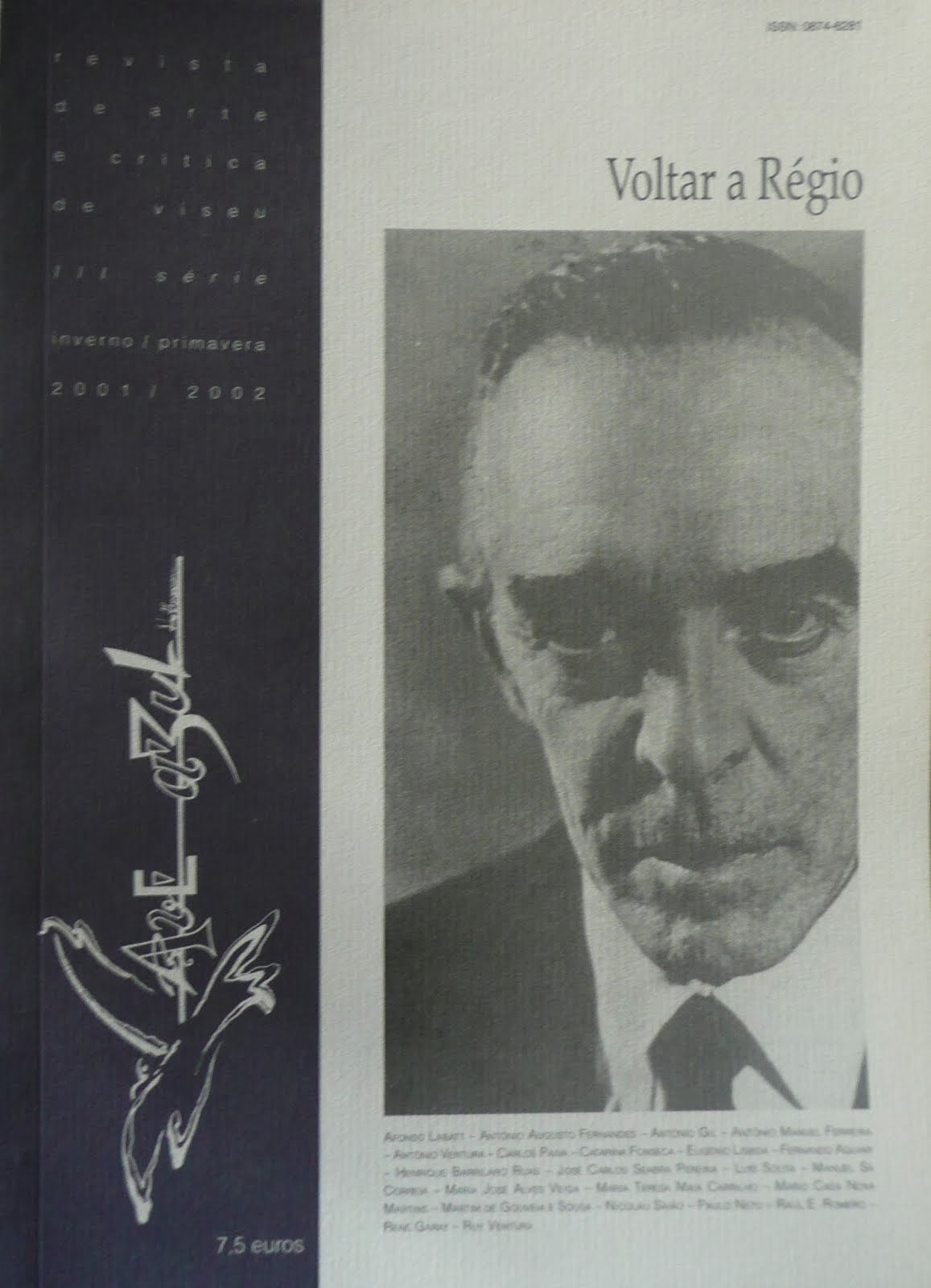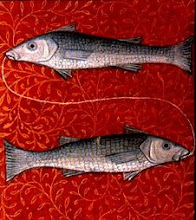Da dignidade estética, da poesia de António Gil
«Oásis os lugares e instantes sitiados de trevas, de areias
escaldantes, de água
salgada, de ruidosa realidade:».
(António Gil, Oásis.)
Às vezes, os dias gastam-se, sem
rebentação, sem líquidos significativos. Outras vezes, poucas, são fundas
esteiras de luz que nos trazem as melhores palavras. Oásis é o que é, sendo um luxo, uma gritante partida por dentro do
tempo, uma boca líquida dizendo o breve nome da poesia que é.
Eu gosto desta casa, destas trevas
luminosas, escaldantes. Afundemo-nos aqui neste oásis, habitação construída em
memoriais corredores, fundos, abertos, aéreos, líquidos, longínquos por estarem
perto, sonhados porque vistos na torrente do sangue.
Nos lábios, o mar na boca diz ser
viagem, rebentação no corpo e relógio que a água sempre é. Este oásis é
distância e sonho, é sede e fastio de maturidade que não sabe outra estação -
«recolher o mar como uma criança», diz o poeta.
Aqui o tempo é isso – a infância
espalhada nas ruas, as flores nos dedos, o funil do tempo rindo em baixo, no
doido carrocel dos lugares onde tudo se guarda. E também as linhas de sal, as
memórias vindas das marés, o sal pousado nos cafés da restinga.
Em Oásis,
os lugares são de poesia, de ausências ditas, de viagens feitas e desfeitas, de
exílios e abandonos. As palavras são também muros que se desvelam, semas que se
adentram na casa adentrando-nos num mundo onde os novos e raros vocábulos
explodem. Novos e raros, repito, mas sendo os mesmos, isto é, tudo e nada, o
mundo.
Um outro pressuposto aqui deixo, vindo
de Baudelaire. Aquele que diz a dignidade estética que habita uma poesia, esta,
que um dia se tornará antiguidade pela sua modernidade extrativa tão
arrebatadora. E isto é dizer-se estarmos perante uma poesia que não pode ser
alugada, que rói já o centro literário.
É evidente que o espetro do erro, quando
se lê e conhece do autor mais de dez títulos poéticos, é um saboroso estar no
mundo em face do poeta António Gil, que há muito insisto surpreendentemente em
ter a pretensão de conhecer. Onde, então, a sua verdade original? Está nisto,
no pó das palavras, que olhamos, sentimos, escutamos, apreendemos e em nós
aparece como fogueira. É a voz do tempo que fala, nas suas múltiplas
escorrências, nesta comunhão que se nos ata.
Um último luxo, que é primeiro, destaco
agora. Ele inscreve-se, por exemplo, no preceito borgiano
verdadeiramente assumido de que «os livros oferecem céus», como se lê desde o
início:
Minhas
flores de infância aí jazem insepultas na penumbra dos
livros
e suas pétalas estiolam, ardem secretas nos intervalos dos
capítulos, atrás das lombadas ainda
cuidadosamente oblíquas...
E, já agora, lembro um outro início,
vindo de 1981, que aqui colo, passados mais de 33 anos: «Trouxeram-me as
palavras / É quase um abismo ser eu // É inútil pensar / Sigo o caminho das
palavras». E seguiu, digo eu, e sabemos nós.
Conatural aos livros e às palavras,
António Gil não se explica, lê-se. A sua poesia faz rizoma com o mundo
dizendo-lhe o silêncio que neste Oásis se
ouve. Uma multiplicidade de silêncio, aliás, com territórios e desterritórios,
e espantosas linhas de fuga. Cartografando, esta escrita é – para ouvir e comer
sem que isso a signifique. Como elo, este silêncio ouve-se – aqui.
viseu, 26 de setembro de 2014 /
martim de gouveia e sousa
Bibliografia de António Gil
impressa
António Gil ( com António Manuel), Poesia nascente, Viseu, Edição dos
Autores, 1981.
António Gil ( com Jorge Henrique), Ex passos, Viseu, C.D.C., 1983.
António Gil, a céu aberto, Miraflores, Difel, 2002.
António Gil ( com João Pedro Domingos d’
Alcântara Gomes), filigrafias, Viseu, edição dos autores, 2002. Grafismo de Eduardo
Araújo.
António Gil, Canto desabitado, Viseu, Ave Azul, 2005.
António Gil ( como Nioto Jiang), O jardim das oito pedras, Coimbra,
Areias do Tempo, 2008.
António Gil, Indústrias do absoluto, Coimbra, Areias do Tempo, 2010.
António Gil, Obra ao rubro, Póvoa de Santa Iria, Lua de Marfim, 2012.
António Gil, Oásis, Viseu, Edições Esgotadas, 2014.
para
publicação
António Gil, do corpo contíguo.
António Gil, Ofícios da insónia.
António Gil, Ofícios da insónia. Incursões * guerrilhas * despojos.
António Gil, Restauros.
António Gil, Trânsitos.
Alguma bibliografia sobre António Gil
CALEMA, José, «À maneira de prefácio»,
in Poesia nascente, Viseu, Edição dos
Autores, 1981, pp. 5-6.
GOUVEIA E SOUSA, Martim de, «Sobre um
livro de António Gil: Umas poucas palavras de um editor sem nome», in http://aveazul.blogspot.pt/2009/05/sobre-um-livro-de-antonio-gil-umas.html,
24 de maio de 2009.
GOUVEIA E SOUSA, Martim de, «Oásis de António
Gil: samar & morfologia», in http://aveazul.blogspot.pt/2014/09/oasis-de-antonio-gil-samar-morfologia.html,
29 de setembro de 2014.
De António Gil, conheço, sem garantir a exaustão, os seguintes títulos:
obra impressa - (com
António Manuel), Poesia nascente,
Viseu, Edição dos Autores, 1981; (
com Jorge Henrique), Ex passos,
Viseu, C.D.C., 1983; a céu
aberto, Miraflores, Difel, 2002; ( com João Pedro Domingos d’ Alcântara
Gomes), filigrafias, Viseu, edição dos autores, 2002; Canto desabitado, Viseu, Ave Azul, 2005; ( como Nioto Jiang), O jardim das oito pedras, Coimbra,
Areias do Tempo, 2008; Indústrias do absoluto, Coimbra, Areias
do Tempo, 2010; Obra ao rubro, Póvoa
de Santa Iria, Lua de Marfim, 2012, Oásis,
Viseu, Edições Esgotadas, 2014. para
publicação - do corpo contíguo; Ofícios da insónia; Ofícios da insónia. Incursões * guerrilhas * despojos; Restauros; e Trânsitos.