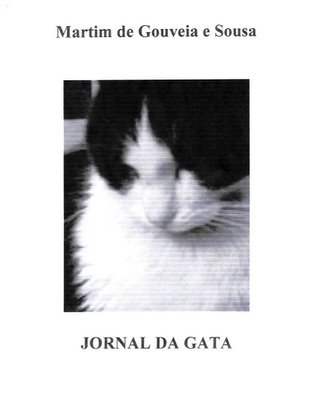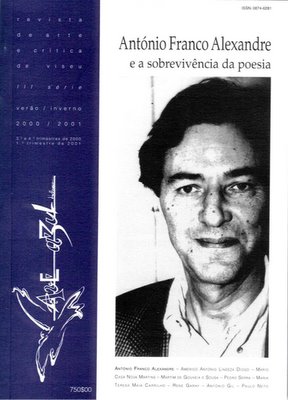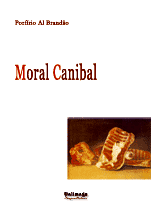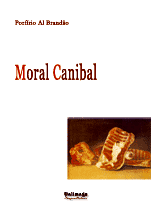 “Forçoso é admitir que nunca conseguimos sair da nossa própria pele.”
“Forçoso é admitir que nunca conseguimos sair da nossa própria pele.”
(C. S. Lewis, A Experiência de Ler)1. Nada deve ser dito sobre um livro que se dá ao leitor. E, no entanto, este elemento paratextual que o sentir do Poeta entendeu encravar no fim da mastigação há-de, pelo tempo póstumo, funcionar como uma porta de legibilidade do texto principal. Assinalo, pois, a linha acessória desta partilha.
É um Walter Benjamin, naquele seu jeito de eternizar o dito mais simples, quem refere serem os escritores pessoas que escrevem livros por insatisfação. Olhando em volta, para o tempo passado e para o porvir, o escrito de que falo litiga já com a cidade da poesia. Ao embate não escapam sequer os livros próprios – as existências poéticas, sem excepção, entram em crise. Esta Moral Canibal a todos combate, depositária fiel que é da tradição “mercantilista” que tudo troca pela paixão e pelo caos, pelo fogo que esmaga o gelo.
Um corte transversal nesta nova incisão de Porfírio Al Brandão permite desde fora-do-texto uma linha de força isotópica que transfiro para o eixo sintagmático afirmante de uma voz lírica que “vive” do lado improvisador que colhe o corpo pelo lado avesso, dele (re)criando a força originária da ousadia tentacular. Das vísceras e visceral, este livro e os seus labirintos intrometem-se como mel pacificador pela garganta do leitor ofegante.
2. De corpo aberto, friso, o texto diz-se, sem rito hermenêutico ou escoliástica sacral. Sobrevém, porém, a vontade percutiva de o dizer, encostando o ouvido à voz do texto.
Como em Hegel, a coruja de Minerva inicia o seu voo ao cair da noite. Assim o meu corpo neste rito pascal de devoração.
3. A modernidade rejeita o passado, isto é, transmuta-o, e não há modo ou forma de atenção (Kermode) que convalide o êxito interpretativo à custa do objecto principal que é esta Moral Canibal. E por isso do início parto.
A marca do título, de acordo com o postulado de Leo Hoek, é um dispositivo semiótico importante e inevitável, nomeadamente em obras de certo fôlego, como é o caso. Projectos, intenções e programas ganham sempre legibilidade a partir do começo fundente (cf. Macherey).
Moral Canibal diz-se contra a “dúvida” barthiana “par où commencer?”. O bloco titular explica-se como signo cultural que já é, gerado na sucção do abismo da criação e da mostração. Entretanto, no espaço finito da amostra, foi roendo o vinagre no objecto libertado do poeta em direcção à joeira do tempo. Campo branco aberto à mancha da impressão e à incisão do leitor, eis a divisa que o título levanta na faina, desejada e repulsada, da cobrição. Suficiente de ambivalência, permite a nomeação a inferência de uma “moral canibal” (veja-se o corte doxológico, deontológico e axiológico…) ou de “uma moral” e de “um canibal”, bem adentro da distinção de Bergengrün de intitulações em nome masculino com adjectivo ou de nome com nome cuja semântica o texto aclarará, coonestando ou não o lance catafórico que o título verte e afunda no grosso textual. Ultrapasso, pois, a “ouverture” e “clôture” do texto, dita título, que é, sem dúvida, uma inderrogável marca inaugural ou “marca-de-água” para a posteridade. Contém a titulação de Al Brandão, a meu ver, a “função aperitiva” de Roland Barthes, nela se originando a leitura. Antecipador (Lämmert) e dramático (Grivel), o título brandoniano é também provocação e distanciamento.
4. O código óptico-grafemático da malha tipográfica do “Prelúdio Quaresmal ou Monólogo do Cordeiro Morto pela Lança Vocabular” que abre
Moral Canibal parece indiciar, até pelo destaque em itálico, um modo programático que importa colar ao título. E assim é.
Entregando-se ao rito e à emergência do “sagrado”, o texto de abertura oferece ao leitor duas vias indeclináveis: a do desossamento em favor do hino visceral e sacral (“eu sou o cordeiro abençoado que abre o peito diante de vós”) e a do primado da palavra e da sua destruição (“e os textos? queimai-os assim como o sonho da erva”). A sacralidade que se levanta do eco das palavras utilizadas, quase sempre em tonalidade irónica e carnavalesca (“eram doze a / comer-me e eu gostava… ainda gosto”, corresponde, na referência possível, à incontinência a que o sujeito poético se entrega face à palavra incomensurável e mastigadora. Afinando-se o tempo quaresmal sob o influxo da devoração, a paisagem “religiosa” e poética é cada vez mais a da desfibração e a da biblioclastia: nunca um acúmulo de palavras trouxera uma ceia mais sanguinária e devastadora…
Este “prelúdio quaresmal”, inçado de lexias vindas da área do esventramento (abundam membros, peitos, músculos, restos, vísceras, sangues, intestinos, peles…), convoca um “cordeiro” que é palavra incompreendida como o ácido do impossível.
5. Abandonado o poema em itálico, o plano adveniente se, por um lado, reitera o vezo visceral e devorista (afinal, moral canibal, não é?), não deixa também de abrir em horizonte novas e frutuosas correlações, como seja, por exemplo, a imagética simbólica do verdescente ou as fundas derivas do grotesco e do surrealizante (cf. “[a rapariga verde]”: “sabes-te, olhas ensonado a rapariga verde que pisa / descalça / os intestinos caramelizados da máquina de escrever”).
A sina predatória que a ousadia poética traz para o ventre do texto é uma constância sinalizadora da incisão criticista. As aranhas atacam, as formigas negras agrafam, as lagartas deslizam, o corpo abre-se, o estômago electrifica-se, o bicho-da-modéstia morde, as palavras matam, o touro branco ataca, os cornos trespassam, o outro é, afinal, o “eu canibal”, mano predador que é boca incontida sobre os homens e as vísceras (cf. “[alerta geral]”: “-fujam, ele é humano… tem os olhos vermelhos dum / ódio ilegível / e garras afiadas a saírem-lhe da boca.”). Nesta senda de demonização e de sede bestiária (e é bem digno o passo de “[nenúfar espacial]” que diz um “insecto / parado no código de barras / do tempo.”), a devoração não cessa. Como não cessa a escavação dentro das vísceras…
Plasma germinativo da mastigação é um apodo que parece encaixar nestas novas palavras de Porfírio Al Brandão. Dessa deriva não muito explorada literariamente ressaltam uma indiscutível originalidade e uns interessantes círculos de atracção que o Poeta consegue subsumir a uma “vigilância superior” (Blanchot). Tal domínio poético dos elementos de coesão não impede nunca, penso, que os abundantes traços de distorção e de desassossego estendam a teia e disseminem a perturbação. Marcado geodesicamente pela constructio macrotextual (desde o título, diga-se), pode o leitor deixar-se abalar pelo embalo musculado das mandíbulas: “o peito acelerado desapega-se da espinha que afiada / corta os pulsos da lua a morrer pálida / sobre a tua cabeça.” ([nós nox noz]).
A “epopeia da carne” desfila perante os olhos do leitor, ganhando tonalidades necrofílicas (v. g., “[carrossel]”) e bestiais (passim), acrílicas (“[era dos clones]”) e sexualizantes (“[auto da cobrição dos faunos]”), bem de acordo com o poder fantasmal do corpo. Apostando no exaurimento das capacidades de exploração das vertentes estranhizantes e repulsivas, o Poeta transgride sempre, cavando abismos e fragmentando o possível já para além do cognoscível, avançando pelos dias da criação e pelos ritos escatológicos com uma “certeza” poética que é caminho novo e, para já, imperscrutável. E, no entanto, um caminho…
6. Pensava Nuno Guimarães estabelecer a poesia “uma ruptura com as coisas”. Fogo por sobre a crise e ardentemente crítica, o exprimível brandoniano anda por aí, não cedendo, porém, ao decadentismo totalizante. No acume de cada sílaba germina uma saída que “linearmente… desabrocha / sempre corroendo” (“[saída]”). Assim a morte como devoração final dissolvente que é digestão e ressurreição da carne.
Movendo-se a escrita de Porfírio Al Brandão entre a simbologia do “sacrifício contínuo” da aranha (com o seu quid construtivo, destrutivo e transformativo) e o sentido hieroglífico da boca que é criação e devoração (relembre-se a titulação
Moral canibal), muito se explica nas palavras que abandono e sinto ainda do lado avesso da pele. [
www.palimage.pt/livro.php?livroid=pp48]


 Cristina Nery é uma artista pujante que vem construindo uma obra gráfico-plástica assente na exploração das veredas do corpo e na tonalização estranhizante. O esplendor da sua arte mostra-se nos exempla que acima plasmei. O poder imagético contende com o intérprete, trazendo-lhe, talvez, o eco do [Fr. 47 P] de Safo que em tradução pouco trabalhada diz :
Cristina Nery é uma artista pujante que vem construindo uma obra gráfico-plástica assente na exploração das veredas do corpo e na tonalização estranhizante. O esplendor da sua arte mostra-se nos exempla que acima plasmei. O poder imagético contende com o intérprete, trazendo-lhe, talvez, o eco do [Fr. 47 P] de Safo que em tradução pouco trabalhada diz :