
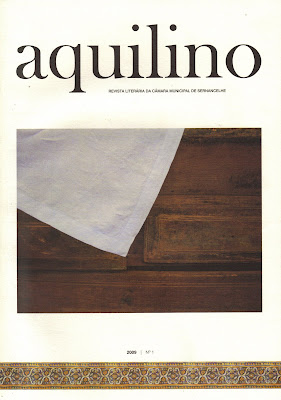
OLHANDO O CENTRO: Aquilino, Francisco Sanches e o lugar
“A arte é coisa mais séria do que um dicionário usado para os usos internos – arte não é subjugação a cânones, é uma liberdade à procura de cânones nunca definitivos.
Escrever, no século XX, como o grande Padre António Vieira é como não pôr uma camisa lavada todos os dias abrindo a gola de peito à vela e jogar uma boa partida de ténis.”
(Ruben A, “História bilingue”, in Páginas (III), 1956.)
“Até mesmo como leitor, não me interessam os livros em que percebo tudo. É exactamente isso: escrever sem saber para onde é que se está a ir.”
(Gonçalo M. Tavares, “Campo, contracampo”, in Visão, 2008.)
0. Em literatura como na vida, nada de definitivo, nada de inconfutátel. Dizer um nome, nomeá-lo sequer para o vórtice da coisa literária, é provocar uma interacção
1. De mão dada com Aquilino, olho o centro literário e penso-lhe o lugar. Onde, hoje, o lugar de Aquilino? Onde, afinal, il miglior fabro dentro do edifício aquiliniano, no contista, no novelista, no romancista, no memorialista, no biógrafo ou no etnógrafo? Afasto-me para ver melhor “essa espécie de Gil Vicente lavrante” (Norberto de Araújo) e para sentir que tal acto valorativo não segue o tempo e com ele fica. E, no entanto, quantos autores mais poderosos e estruturados?
É assim a literatura, o seu rito formativo. Aquilino é sempre admirável e quase nunca espantoso e imprevisto. Um parágrafo de Ruben A. é espantoso (“Destas longas perenes insatisfeitas noites de trombones eu despedaço cantigas brâmanes onde só permaneço a desencalhar a proa de vicissitudes para tonalidades imperfeitas darem espilros incoerentes dânsia alcatifada. Depois uma peripécia combina-se na cantilena de novos se pasmos acompanham o vir desdobrar da minha inocência.”, Páginas (II), 1950), como espantoso é um verso de Herberto Hélder (“abrupto termo dito último pesado poema do mundo”, A faca não corta o fogo, 2008). Aquilino é admirável mas não surpreende a “história da literatura”: “Os dez anos de ausência apagaram-se como um sopro perante a obsessiva eternidade que se lhe oferecia ao lance de olhos.” (Quando os lobos uivam, 1958).
Frederico Lourenço, em nota pessoal, não hesita em confidenciar que os seus autores preferidos no século XX são José Régio, Miguel Torga e Ruben A. Vasco Pulido Valente, com a impulsividade característica, acha Aquilino um escritor medíocre. Álvaro Cunhal, por seu lado, em prefácio inédito há pouco vindo a lume, defende que Quando os lobos uivam é o seu “único grande romance”, o que David Mourão-Ferreira parece contestar ao integrar A Casa Grande de Romarigães do Mestre da Nave nas obras-primas do romance português do século XX. Aguiar e Silva, não obstante a admiração pelo homem cultural que era (e é) Aquilino, sempre foi falando que os três fulgurantes romances do século XX português são A Sibila de Agustina, Sinais de Fogo de Jorge de Sena e Para Sempre de Vergílio Ferreira. E até a integração de Terras do Demo nos 100 Livros Portugueses do Século XX por Fernando Pinto Amaral parece indicar que o melhor Aquilino é o inicial e não o trabalhador incansável dos anos vindouros.
Não será, talvez, difícil executar um trabalho inverso, provando, nomeadamente nos círculos comemorativos, do excepcional mérito de Aquilino, mas talvez fosse difícil fazê-lo com nomes tão criteriosos e respeitados nos foros literários como os apresentados.
De que quid carece Aquilino para ser um fundamental e um moderno, tanto mais que o rótulo de clássico aposto ao escritor deriva da tresleitura e da leveza? Italo Calvino bem ensinou que um clássico se relê, ama-se, torna-se inesquecível, integrando-nos sempre na descoberta de um objecto que não acaba nunca de dizer, transportando consigo uma memória deflagradora de discursos críticos que no confronto se apagam, porque o texto celebrado nos interessa e tem inscrição numa genealogia textual incontestável. Será neste ou noutro sentido Aquilino um clássico? E um moderno? Sem resposta, em busca do quid sigo por escuro labirinto.
2. Aquilino Ribeiro, em artigo publicado nos Anais das Bibliotecas e Arquivos por Janeiro-Março de 1922, subscreve um interessante e pequeno artigo, de título “O filósofo Francisco Sanches”, que desvela não só uma das influências discursivas aquilinianas, como abre, em simultâneo, um enigma bibliográfico que talvez importe fixar.
Neste artigo, Aquilino rejubila com a nacionalidade portuguesa do filósofo, comprovada pela documentação encontrada por José Machado, revelando possuir a Biblioteca Nacional a “estimada e raríssima” edição de Lyon do Quod nihil scitur e ser pertença de um particular a única edição em Portugal das Opera Omnia. Na primeira página do texto são estampados os rostos das duas obras. Estávamos, como disse, em 1922, e nada para além disso poderia ser pensado.
Dezoito anos passados, por
Sanches meditava cuidadosamente e escrevia em casa as suas lições, que depois lia ou lhe serviam de base nas aulas. Foram estes manuscritos que os seus filhos Guilherme e Denis, e o seu discípulo Raimundo Delasso, em 1636, reuniram em volume, acrescentando os tratados já citados de Filosofia.
É um belo volume em 4º que tive o grato prazer de manusear uma e mais vezes, de lê-lo e traduzi-lo em algumas passagens, com uma emoção bem compreensível e bem portuguesa, graças à amabilidade do seu feliz possuidor, o Mestre da nossa língua, o Dr. Aquilino Ribeiro, a quem não sei dizer o meu reconhecimento. (Op. cit., p. 38.)
A reprodução do rosto da obra, entre as páginas 42 e 43, afasta quaisquer dúvidas e patenteia o sinete de Aquilino ao lado de uma imagem bucólica representando um pastor com o seu rebanho, notando-se ainda por cima do quadro campestre resíduos de um obscurecido manuscrito de propriedade.
Sendo de louvar o prestante serviço de Aquilino Ribeiro a Rocha Brito e, diga-se, à cultura nacional, tudo parece indicar que o incógnito possuidor da obra em 1922 era já o nosso escritor, a não ser que tivesse havido algum achamento posterior, o que, de facto, pode ter acontecido. Mas terá sido assim?
Existem, pelo menos, dois exemplares da obra na Biblioteca Nacional, o que actualiza a longínqua informação aquiliniana, até pela dinâmica de uma instituição cultural do género, que a dava apenas como possuidora de um outro título. Em consulta ao Catálogo da Biblioteca de Aquilino Ribeiro, coordenado por Maria da Graça Alvarez Toscano e editado pela Fundação Aquilino Ribeiro, não foi encontrado rasto da obra, pelo que se levantam várias possibilidades, desde ter havido cedência da obra à Biblioteca Nacional, remunerada ou não, até ter entrado em processo de partilhas entre herdeiros e ter ficado fora do espólio da fundação. Aliás, como se disse, o exemplar de Aquilino possuía, no rosto, um sinal que, ainda que rasurado, não pôde, por certo, ser totalmente ocultado: refiro-me ao célebre sinete aposto na página de rosto das Opera Medica, que acompanha, diga-se, toda a obra de Aquilino Ribeiro, e que, a benefício de inventário, Rocha Brito estampou para a posteridade no seu Francisco Sanches.
Quanto ao percurso e destino da obra que pertenceu a Aquilino, caberá ao leitor conjecturar e aos sabedores esclarecer. Haja quem.
Explicitado o enigma bibliográfico, avanço dizendo que discursivamente Aquilino Ribeiro utiliza uma modalidade interrogativa que parece advir do contacto com os textos de Francisco Sanches, nomeadamente dos tratados médicos que sempre terminavam por um QVID? maiúsculo, “símbolo da sua dúvida e da sua confessada humildade humana.” (A. da Rocha Brito) Operativo, o quid? de Sanches era anunciador do que sais-je de Montaigne e entrou na forja de Aquilino. Leiam-se, por exemplo, o “P.S. Ao leitor gracioso” da Via Sinuosa, o incipit de Cinco Réis de Gente, partes do prefácio dedicado “Ao Dr. Francisco Pulido Valente” de Quando os Lobos Uivam, abundantes parágrafos da “Introdução” ao D. Quixote e, verdade se diga, perscrute-se toda a obra de Aquilino e veja-se como remanesce esse halo interrogativo e indagativo.
3. Aquilino Ribeiro é para muitos Mestre Aquilino. E é justo que o seja, levando em conta a capacidade lavrante da sua escrita alicerçada em luminoso conhecimento linguístico. Lembro, infelizmente, que o designativo de Mestre é quase sempre uma forma hábil de desinvestidura e de afastamento – quem não chama Mestre a Vieira e quem realmente o lê?
José Régio, em 1928, achava que Aquilino se deveria afastar da “literatura de literato”, não expressando por ele especial admiração artística, embora respeitasse o trabalho insistente demonstrado. Mais de um lustro volvido, Régio acusa, em termos de modernidade, A Batalha sem fim de não romance, ecoando ainda uma regiana admonição que transcrevo:
Todas as restrições que possa pôr à obra de Aquilino Ribeiro não me impedem de o considerar um grande artista, e um grande exemplo moral de trabalhador das letras numa terra e numa época diletantes. ( presença, nº 38)
E nem interessa muito lembrar a polémica de Aquilino com Gaspar Simões depois das críticas mais ou menos negativas do presencista relativamente a Mónica, atestadora, no entanto, da falta de unanimidade, ao longo dos tempos, na aferição dos méritos e deméritos do escritor. Vinque-se, ainda, que a tergiversação judicativa a que nos referimos ocorre no meio crítico e não entre comentadores de tudo ou opinadores dessorados e oportunistas.
Entre 1913, ano da verdadeira estreia literária de Aquilino Ribeiro, e 1963, ano de falecimento do escritor, publicaram-se obras ficcionais de indenegável valia (tais como: Princípio (1912), A confissão de Lúcio (1914) e Céu em Fogo (1915), de Mário de Sá-Carneiro; Húmus (1917), de Raul Brandão; Folha de Parra (1932), de Tomás Ribeiro Colaço; Elói ou Romance Numa Cabeça (1932) e Internato (1946), de João Gaspar Simões; Páscoa Feliz (1932), Uma Aventura Inquietante (1959) e A Escola do Paraíso (1960), de José Rodrigues Miguéis; Miradouro (1934), de Antero de Figueiredo; Jogo da Cabra Cega (1934), O Príncipe com Orelhas de Burro (1942), A Velha Casa (1945, 1947, 1953 e 1960) e Histórias de Mulheres (1946), de José Régio; Novelas Eróticas (1935) e Maria Adelaide (1938), de Teixeira-Gomes; A Casa Fechada (1937) e Mau Tempo no Canal (1944), de Vitorino Nemésio; Sedução (1937) e Adolescente Agrilhoado (1958), de José Marmelo e Silva; A Criação do Mundo (1937, 1938, 1939), Bichos (1940), O Senhor Ventura (1943) e Novos Contos da Montanha (1944), de Miguel Torga; Nome de Guerra (1938), de Almada Negreiros; Ana Paula (1938), de Joaquim Paço d’ Arcos; Solidão (1939) e Uma Mão Cheia de Nada, Outra de Coisa Nenhuma (1955), de Irene Lisboa; Gaibéus (1940), Avieiros (1942) e Barranco de Cegos (1961), de Alves Redol; Esteiros (1941), de Soeiro Pereira Gomes; O Barão (1942), de Branquinho da Fonseca; Apenas Uma Narrativa (1942), de António Pedro; Aldeia Nova (1942), Cerromaior (1943), O Fogo e as Cinzas (1951) e Seara de Vento (1958), de Manuel da Fonseca; A Garça e a Serpente (1943) e Cárcere Invisível (1950), de Francisco Costa; Fogo na Noite Escura (1943), Casa da Malta (1945) e O Trigo e o Joio (1954), de Fernando Namora; Casa na Duna (1943), Alcateia (1944) e Uma Abelha na Chuva (1953); Dia Cinzento (1944), de Mário Dionísio; Um Homem de Barbas (1944) e Malaquias ou a História de Um Homem Barbaramente Agredido (1953), de Manuel de Lima; Adolescentes (1945), de Adolfo Casais Monteiro; A Toca do Lobo (1947) e Nó Cego (1950), de Tomaz de Figueiredo; O Mundo Fechado (1948) e A Sibila (1954), de Agustina Bessa-Luís; O Empecido (1950), de Teixeira de Pascoaes; Filha de Labão (1951), de Tomás da Fonseca; A Porta dos Limites (1952) e Os Bastardos do Sol (1960), de Urbano Tavares Rodrigues; Caranguejo (1954) e Cores (1960), de Ruben A.; Histórias Castelhanas (1955) e O Dia Marcado (1963), de Domingos Monteiro; Manhã Submersa (1955), Aparição (1959) e Cântico Final (1960), de Vergílio Ferreira; O Anjo Ancorado (1958) e O Hóspede de Job (1963), de José Cardoso Pires; Tanta Gente, Mariana (1959), de Maria Judite de Carvalho; Gaivotas em Terra (1959), de David Mourão-Ferreira; A Cidade das Flores (1959) e As Boas Intenções (1963), de Augusto Abelaira; Andanças do Demónio (1960), de Jorge de Sena; Contos Exemplares (1962), de Sophia de Mello Breyner Andresen; Rumor Branco (1962), de Almeida Faria; Os Pregos na Erva (1962), de Maria Gabriela Llansol; Aventuras Maravilhosas de João Sem Medo (1963), de José Gomes Ferreira; ou Os Passos em Volta (1963), de Herberto Hélder), todas elas entrando em confronto com o melhor Aquilino ficcionista.
Mas será o melhor Aquilino o ficcionista? Terras do Demo, O Malhadinhas, A Casa Grande de Romarigães e Quando os Lobos Uivam são obras poderosas, admiráveis mesmo, mas nunca espantosas como Húmus, Elói, Jogo da Cabra Cega, Nome de Guerra, Apenas Uma Narrativa, O Barão, A Toca do Lobo, Uma Abelha na Chuva ou Aparição. E, chegado aqui, apetece reflectir e pensar, na esteira de George Steiner, que talvez nenhuma criação ficcional de Aquilino nos faça pestanejar como tantas do elenco apresentado no parágrafo anterior. Há um quid ausente e uma malha discursiva mais arquitectónica do que musical ou têxtil, mais expressão do que pensamento.
Olho o centro e a obra de Aquilino para dizer ainda que o todo é monumental. Aí me fixo, sem individualizar, porque a comparação diminui o feito e permite a conclusão de que nem só de ficção se alimenta a oficina do Mestre. E, como diz Walter Benjamin, génio “é trabalho diligente” que ninguém nega.
Olhando o centro, o monumento literário erigido por Aquilino Ribeiro inscreve-se na memória como o Hildebrandslied. É tarefa de estudiosos e hermeneutas fazerem dessa memória uma literatura viva, para que se não diga apenas que “ler os clássicos é melhor que não ler os clássicos” (Italo Calvino).
Conceda-se a trabalho assim o “alvará de correr” e vá-se, por exemplo, pela erótica aquiliniana que Eduardo Lourenço tão codiciosamente desbravou. Ou, então, sejam encontradas outras novidades, ditadas sempre pelo “honesto estudo” e pelo rigor de textos que não devem ser molestados por “falsos moedeiros” da coisa literária.
A obra ficcional de Aquilino é admirável, repito. Mas espantosa mesmo é a sua erudição activa e argumentativa que o fez ser, por exemplo, e no dizer de Aguiar e Silva, a “única voz de relevo a discordar da ortodoxia camonista que se estabelecera na primeira metade do século XX em torno da edição princeps de Os Lusíadas.”
Na escavação funda dentro do corpus aquiliniano ninguém ficará indiferente à intensidade do ethos filológico que se vê tão claramente, não acham?
Viseu, 23 de Outubro de 2008
Martim de Gouveia e Sousa






















Sem comentários:
Enviar um comentário